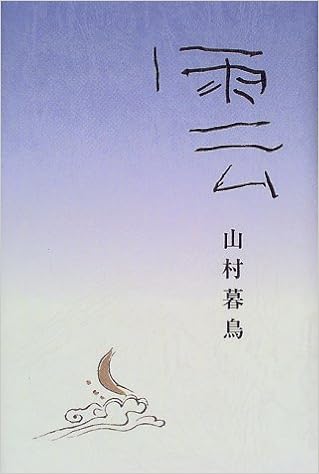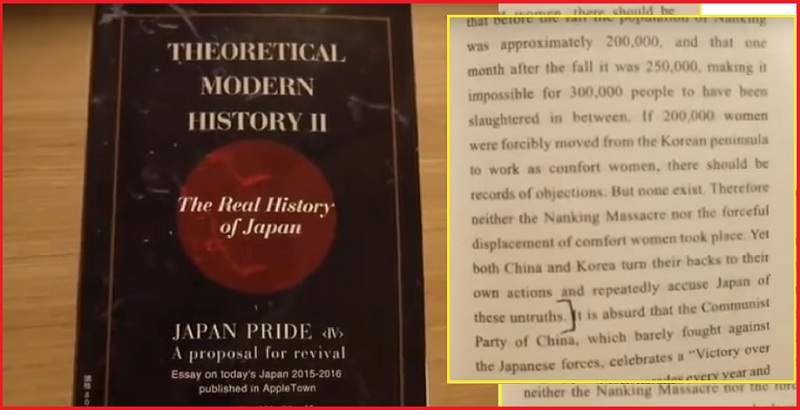Com as mãos repousadas no peito, Adão caminhou como caminham os mortos, hirto, imperturbavelmente horizontal, porém em paz. Calcorreou a calçada escorregadia, por entre beatas pisadas e aposentadas, até chegar ao cais de onde partiria rumo à sua última aventura: a Agência Funerária Eterno Descanso.
Adão empurrou a pesada porta de vidro e entrou. Era um pequeno e banalíssimo escritório à moda antiga, onde se poderia perfeitamente vender seguros ou preencher declarações de IRS. O espaço estava dividido em dois por um balcão de madeira com dois monitores de computador em cima. Já as paredes estavam cheias de dossiês empoeirados e sem critério aparente. Para tão importante operação esperava-se mais intencionalidade, uma clássica ordem alfabética ou, porque não, uma disposição de Génesis ao Apocalipse.
Não obstante, a morte é essencialmente a antítese da ordem. Pelo menos, para aqueles que são obrigados a enfrentá-la cara-a-cara nos momentos mais inoportunos da rotina, como o são os engarrafamentos ou a evacuação.
Os funcionários da funerária deviam estar precisamente a passar por uma dessas inconveniências triviais, pois não havia ninguém na sala para saudar Adão ou ensinar-lhe a taxonomia das frutas permissíveis e ilegais.
Graças a deus, todo o sofrimento tem o seu fim. Passados cinco intermináveis minutos, um homem franzino aproximou-se do balcão. Tinha um par de óculos arredondado e vestia um fato cinzento, com o colarinho desabotoado. Tinha acabado de vir das traseiras e carregava uma volumosa pilha de papéis nas mãos. Ao notar na presença de Adão, pareceu mais aborrecido do que surpreso.
— Posso ajudá-lo?
— Não tenho a certeza — retrucou Adão, com as mãos nos bolsos.
— Nestas alturas, ninguém nos pode ajudar verdadeiramente, não é verdade? Sente-se — instruiu o homem. — O meu nome é Fausto. O que o traz aqui?
Adão engoliu em seco. Por fim, revelou:
— Preciso de planear um funeral.
— Antes de mais, as minhas condolências. Para quem seria a última despedida?
— Para mim mesmo.
Fausto ajeitou os óculos.
— Entendo, infelizmente já lidei com casos semelhantes no passado. Se me permite a indiscrição, quanto tempo de vida é que o doutor lhe deu?
— Qual doutor?
— Parti do pressuposto que tivesse recebido um diagnóstico irreversível, como um cancro terminal, por exemplo.
Pela primeira vez, Adão sorriu. Em breve, a imagem materializou-se acusticamente em gargalhadas asfixiantes.
— Que eu saiba, não tenho qualquer doença letal. Sou saudável. Simplesmente, estou-me a precaver para o que me espera. Aliás, para o que nos espera a todos nós.
Fausto inclinou-se na cadeira e bufou.
— Quanto anos é que o amigo tem?
— Tenho trinta anos.
— E tem família? Mulher, filhos?
— Ex-mulher e um filho pequeno.
— Não me leve a mal, mas, se quer planear o seu funeral com tanta antecedência, recomendo-lhe que cultive uma boa relação com o seu filho, vai ver que, quando chegar a malfadada hora, ele tratará de tudo por si.
— Agradeço o conselho, mas, segundo sei, e corrija-me se estiver equivocado, a vossa empresa presta um serviço mediante o pagamento do respetivo preço. Se pagar o preço do serviço, o que é que lhe interessa se o funeral é hoje ou daqui a quarenta anos?
— Interessa e muito, e por uma variedade de fatores. Primeiro, por causa da inflação. Se o senhor pagar 5000€ por um funeral hoje, esses mesmos 5000€ valerão muito menos daqui a quarenta anos. Isto é, partindo do pressuposto que serão quarenta anos, a esperança média de vida tem vindo a aumentar a olhos vistos, e suspeito que, se nada de trágico lhe acontecer, possa viver muito mais. Devo também admitir que não temos garantias de que a nossa empresa continuará em funcionamento. Somos um pequeno negócio e não podemos corresponder a pedidos com tanta antecedência.
— Então, e se eu pagar já o preço do funeral e me comprometer a fazer pequenas contribuições mensais para compensar a inflação? Uma espécie de Plano Poupança Reforma, mas para garantir que parto nos meus próprios termos.
— Não diga parvoíces, homem. Invista o seu dinheiro onde renda.
— Haverá melhor investimento do que a morte?
Fausto fitou Adão em silêncio. Sentia-se pobre de léxico para responder às postulações insanas daquele homem, que, para todos os efeitos, era mais um cliente (€).
— Permita-me uma outra pergunta: o que é que o levou a tomar esta decisão? Perdeu alguém que amava? Morreu alguém que conhecia? Um famoso, porventura?
— Sim e não. Sim, já me morreram alguns familiares e conhecidos, e obviamente que já li várias notícias sobre a morte de celebridades que conheço e de que até gostava. Mas não creio que alguma dessas mortes me tenha marcado particularmente.
— Então, qual o motivo?
— Nem eu sei. Talvez seja porque andei a ler as Meditações de Marco Aurélio. No entanto, creio que os principais responsáveis foram os pombos.
— Os pombos? Não me diga que desta vez foram as aves a pregar aos homens.
— Também se pregassem de pouco valeria, não tenho jeito para línguas. O que se passou foi o seguinte: estava sentado ali no parque, num banco entre a fonte e o coreto, quando um bando de pombos se aproximou. Viram que tinha comida nas mãos e ali ficaram em posição, prontos para atacarem. Coagido, lá aceitei desfarelar-lhes um pouco do meu pão. Peguei numa mão cheia de migalhas e atirei-as para o chão. Os pombos atropelaram-se uns aos outros, trôpegos, lutando pela própria alimentação.
— É a lei do mais forte.
— Eu pensava o mesmo. Até que comecei a notar na aleatoriedade das coisas, na natureza caótica dos movimentos, da física, dos materiais, da continuidade… Eventualmente, reparei que o pombo «A» comia muito mais do que os restantes. Senti uma certa revolta por causa dessa injustiça. Aí, tentei intencionalmente mandar mais migalhas para os demais pombos. Julguei que pudesse fazer a diferença, pois acredito no livre-arbítrio, na capacidade de escolher se trincamos ou não a maçã e se acatamos as responsabilidades pelas nossas ações ou não. Contudo, para meu espanto, quanto mais tentava alterar o rumo dos acontecimentos, mais eles pareciam conspirar contra mim, alimentando o glutão pombo «A» com a subserviência de um plebeu. Transtornado, voltei para casa. Nessa noite, mal preguei o olho. A minha mente foi assolada por imagens tenebrosas de eventos da minha vida em que a minha vontade de pouco ou nada serviu. Mas, com o nascer do sol, fez-se luz.
Fausto repousou o polegar no queixo.
— Nesta vida aleatória, a única escolha disponível é a morte certa. Escolher como irei partir é o único ato genuinamente voluntário e intencional a que tenho direito. A morte é a liberdade.
— Bonitas palavras. Mas o senhor está a ver mal as coisas. De facto, concordo consigo em relação ao papel libertador da morte, livra-nos do sofrimento, da tristeza. Mas também nos priva da vida. E devo também relembrá-lo de que a morte, isto é, o momento em que a vida se fina, não depende de um funeral para se consumar. Porque é que insiste em ser você mesmo a planear o funeral quando não precisa dele para usufruir das benesses de morrer que tanto apregoa?
— Apregoar é exatamente a palavra que eu usaria para me defender. Seria honesto da minha parte aceder a este conhecimento emancipador sobre a essência da morte e não o partilhar com os outros? Diria que não. A meu ver, o meu funeral, por muito discreto que venha a ser, é uma belíssima oportunidade para informar os presentes daquilo que os espera e para lhes dar esperança. Para que não vivam com medo da entropia. Ao invés disso, que a aceitem de braços abertos.
— Mas do que me vale saber que a vida é uma ilusão se tudo aquilo que nasce morre?
— Ryōkan.
— O quê?
— O quê não; quem. Foi um monge budista japonês. Ele escreveu um poema que, em português, soa muito parecido à frase que o senhor acabou de proferir.
Fausto levantou-se da cadeira. Por trás das lentes, as suas pupilas agigantaram-se, quais luas novas, os cantos da boca tremelicando.
— Já percebi que o senhor lê muito, quiçá demasiado. Mas eu não sou filósofo, muito menos terapeuta. Tenho um negócio que presta serviços mediante determinadas condições. Lamento informá-lo, mas, não estando os requisitos reunidos, não creio que possa corresponder ao seu pedido.
— Não me pode discriminar assim. Sou um cliente como os outros.
— Devo discordar.
— Discorde do que quiser, em vida pouco importa. Mas eu quero o meu funeral. Ligue-me quando puder, se faz favor.
Adão pôs um papel recortado na mão de Fausto e, com isso, virou costas e fechou gentilmente a porta. Fausto não sabia o que fazer com o papel amarrotado, mas agradeceu-lhe a simpatia pela arquitetura.
Ao final da tarde, Fausto sentou-se no banco do jardim entre a fonte e o coreto. A temperatura amena convidava ao ócio.
Nas suas mãos, um saco de pão duro resgatado da cozinha.
Pegou no pão e, com as mãos enrugadas, arrancou um pequeno pedaço. A rocha virou pedra, depois areia. Abanou a mão para nivelar as migalhas e rodou o pulso 180 graus.
Em breve, um bando de pombos rodeava-lhe as botas. Bicavam desastradamente o chão, por vezes acertando nos farelos, por outras trincando a frustração.
Ao contrário do que o cliente descrevera, Fausto não reparou em qualquer desigualdade nas porções consumidas por cada pombo. Cada espécime comia sensivelmente a mesma quantidade de pão proporcionalmente ao tamanho do seu corpo. Eram iguais, tal como Fausto pretendera.
Eventualmente, o primeiro punhado de migalhas finou-se. O exército columbino fuzilou-o com os olhares vidrados. O saco de pão continuava meio cheio.
No instante seguinte, contudo, Fausto levantou-se de supetão e abandonou o parque. Embora não tenha olhado mais para os pombos, tinha a certeza que eles não iriam ficar ali por muito tempo.
Mal chegou à funerária, pegou no telefone e digitou o número do cliente.
— Estou sim? Estou a ligar da Funerária Eterno Descanso, poderia passar cá amanhã?… Sim, senhor, combinado. Vá em paz.
Na manhã seguinte, Adão bateu à porta da funerária escassos minutos antes da hora oficial de abertura.
— Ora viva, seja bem-vindo — saudou Fausto, visivelmente mais entusiástico do que na primeira visita. — Escusa de se sentar que o que eu tenho para dizer não demora nada.
Adão manteve-se em pé.
— Estive ontem a alimentar os pombos no mesmo sítio que o senhor e cheguei à conclusão que a intencionalidade, mesmo com suas falhas, é um conceito válido e francamente mais útil do que as ideias de justiça ou igualdade.
— Respeito o seu direito à diferença de opinião.
— Muito obrigado. Isto para dizer que decidi aceitar o seu pedido.
— Obrigado eu.
— Sob uma condição: o funeral tem de ser feito já.
— Já? Mas eu ainda não morri.
— Pois não, é por isso que deve fazer o funeral agora enquanto pode. Venha daí, temos uns belos caixões nas traseiras. Que tipo de madeira prefere? Mogno? Nogueira? Ácer?
— Não sei se é bem isto o que eu queria.
— Vá lá, homem, não seja piegas. Despachemos o inevitável que o relógio não perdoa.
Agrilhoado àquele pacto que não fazia tenções de firmar, Adão arrastou-se até à sala dos caixões no fundo da funerária. Era como se os seus pés fossem feitos de madeira maciça.
Fausto apontou com a mão para um suntuoso caixão de mogno revestido de veludo púrpura. No exterior, havia um pequeno escadote, quais escadas de piscina. Só faltava dar o grande mergulho.
Adão inspirou fundo e fletiu o joelho. Os ossos estalaram. Recobrando o fôlego, entrou no caixão. Os ténis enlameados tingiram o veludo, tornaram-no único. Então, deitou-se. Cruzou os braços. Sabia perfeitamente o que fazer. Treinara a vida inteira para este momento.
Algumas palpitações depois, começou a ver-se a si mesmo dentro do caixão. Estava simultaneamente no seu interior e exterior, presente e vicário.
Por último, ouviu o vigário Fausto discursando monocordicamente: “Estamos aqui reunidos para prestar uma sentida homenagem ao nosso amigo X, que dedicou a sua vida a Y, e deixa para trás um filho, o pequeno Z”.
O que a elegia não tinha em especificidade compensava com estrutura. Agora, tudo fazia sentido. Enfim, a vida em ordem alfabética.
– André Pinto Teixeira, 2024