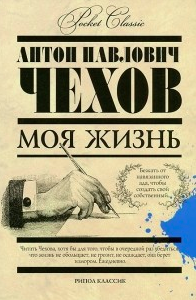Nunca liguei particularmente ao ano novo. Muito menos às ambiciosas resoluções e declarações de novos começos que inundam as redes sociais entre o alegado nascimento do nazareno e a remoção das iluminações festivas. Aqui entre nós: eu nem gosto de ser o Grinch pós-modernista que acusa qualquer ocasião calendarizada de ser uma mera construção social, como se fosse impossível criar, ex nihilo, significado para conceitos inerentemente desprovidos de. Contudo, não me parece desmesurado afirmar que o calendário gregoriano ou, muito menos, o champanhe, não irão resolver as maleitas espirituais de que não soubemos tratar durante os meses precedentes.
Os japoneses têm uma expressão para se referirem a promessas grandiosas que são imediatamente quebradas: mikka bōzu 三日坊主, literalmente “monge por três dias”. Ora, não querendo eu incorrer na constrangimento que acompanha a heterodoxia, neste ano decidi abster-me de quaisquer resoluções de ano novo. O meu único projecto pessoal para 2020 é ler menos livros, devotando mais tempo a obras mais extensas ao invés de investir simplesmente no número de obras lidas. Há anos que ando a iludir-me a mim mesmo de que iria ler O homem sem qualidades, de Robert Musil, dando o dito por não dito mês após mês. Pois bem, o melhor é mesmo pôr mãos ao trabalho, que é como quem diz mãos no Kindle, e começar efectivamente a ler o livro.
Aproveitando as férias de ano novo e o tempo invulgarmente ameno, optei por passar o primeiro dia de 2020 em viagem. Há algumas semanas, tinha visto na televisão algumas imagens de um farol no este de Chiba que me fez lembrar paisagens da costa portuguesa. Estando eu em Chiba na passagem de ano, decidi dirigir-me à localidade em que poderia visitar o dito farol. Acordei cedo (pecado capital segundo os meus mandamentos pessoais) e apanhei o comboio na linha Sōbu 総武本線, rumo à estação terminal, a localidade de Chōshi 銚子.
Entre Chiba e Chōshi, um trajecto de quase cem quilómetros, a arquitetura urbana da esfera metropolitana começa a dar lugar a paisagens bucólicas. As grandes estações enferrujadas e pachinkos abandonados são substituídos por apeadeiros desertos, arrozais e florestas densas. Nos campos, agricultores realizam queimadas a céu aberto. É difícil imaginar que o aeroporto de Narita, um dos mais movimentados e cosmopolitas do mundo, fica tão perto deste mundo rural onde a luz do néon nunca chegou.
O comboio para Chōshi está longe de ir cheio, mas, mesmo assim, razoavelmente composto. No assento à minha esquerda, uma jovem descalça-se e coloca os pés nos bancos da frente. Leva ao colo um iPad, no qual tenta trabalhar nalgum tipo de documento, boicotada, porém, pelo grupo de estudantes barulhentos que galhofa alguns bancos atrás. Nos comboios draconianos de Tóquio, tamanha risota seria punida com a mais veemente agressividade passiva. Aqui, contudo, não há vagar para a intransigência. A vida faz-se devagar, e há que saber quando tolerar o aparente intolerável.
Passadas duas horas, chego por fim à estação de Chōshi. No guichê turístico, recolho um pequeno panfleto que me conta que esta pequena cidade, de aproximadamente sessenta e cinco mil habitantes, é conhecida pela pesca e pela produção de molho de soja. Ademais, a sua longa costa, que inclui o ponto mais a leste na região de Kantō, permite a observação de diversas formas de vida marinha, incluindo golfinhos.
Começo o passeio pela cidade dirigindo-me ao templo Enpuku 圓福寺, também conhecido como o templo de Iinuma-Kannon 飯沼観音, em honra da divindade budista da misericórdia. À entrada do templo, há dois santuários xintoístas, apanágio do sincretismo religioso japonês. Embora não partilhe de qualquer fé ou superstição relacionada com os kami, achei por bem dirigir-me ao santuário em jeito de ritual de início do ano, até porque o mau tempo havia gorado os meus planos de realizar a primeira visita do ano (hatsumōde 初詣) na passagem de ano propriamente dita. Antes do portão torii 鳥居 que marca o início do chamado “espaço sagrado”, está afixado um comunicado que insta os visitantes a respeitarem a etiqueta de “peregrinação” ao santuário: vénias ao entrar e ao sair, purificação ritual das mãos e da boca e oração segundo os preceitos ortodoxos. Regra geral, a existência de um aviso escrito de natureza prescritiva indica que o comportamento considerado desejável não tem sido a norma, suspeita que confirmei sem demora observando a nonchalance com que a maioria das pessoas passava pelo portão.
Nos precintos do templo, havia comerciantes a vender bugigangas, antiquarias e bombas calóricas. À esquerda do pavilhão principal, estava um pagode quíntuplo e um buda esculpido em 1711. Um casal idoso ao meu lado comentava que o buda não estivera ali da última vez que tinham visitado. Talvez tivesse ido dar uma escapadinha a algum lado – não seria a primeira vez que o Buda desapareceria sem aviso prévio.

Junto da estátua do buda, centenas de placas ema 絵馬 bamboleavam ao sabor do vento, embatendo gentilmente umas nas outras. Nas placas, liam-se desejos em diversas línguas, uns mais triviais, outros mais cobiçosos. Uma das placas pedia força para o povo de Hong Kong, um desejo que suscitou, noutros templos do Japão, uma onda de vandalismo sem precedentes. Felizmente, a placa aqui permanecia intacta.
[Notícia sobre o tema: https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3039244/chinese-tourists-blamed-after-vandals-deface-pro-hong-kong]
Uma vez que o meu verdadeiro objectivo era visitar o farol, não me detive por mais tempo no templo e pus pés a caminho. Até à costa, eram cerca de seis quilómetros. Quanto mais caminhava, mais rural a paisagem. Por momentos, julguei estar perdido nas aldeias de Niigata que vim conhecendo ao longo destes três anos. Se me tivessem raptado e abandonado ali a meio da noite, juraria a pés juntos estar perto do monte Yahiko. A paisagem entre o templo de Kannon e a costa consistia essencialmente em três coisas: casas de madeira ao estilo de Shōwa, pardais e plantações de nabiças. Até na beira da estrada havia enrugadas folhas de nabiça, lembretes, quem sabe, dos tufões implacáveis que dizimaram as culturas locais no outono de 2019.
Antes de pôr pés na costa, cruzo-me com um apeadeiro que posso apenas descrever como uma das estações de comboios mais pequenas que já vi. Por ela, passa o serviço local Chōshi Dentetsu 銚子電鉄, que liga a estação central ao porto piscatório de Tokawa 外川漁港, na extremidade da península. Cruzando uma vereda estreita ladeada por pinheiros, chego finalmente à costa. Estava no cabo de Inubo 犬吠埼, literalmente o Cabo do Cão Ladrador.

À minha frente, as ondas do Pacífico acometem contra a costa com um vigor que ainda não havia presenciado. A maresia inundou-me imediatamente os sentidos, reavivando memórias de passeatas por Sesimbra, Sintra e Nazaré. À minha direita, o almejado farol, alvíssimo, nostálgico, familiar. No parque em frente à praia, uma família fazia um churrasco. As crianças lançavam papagaios juntas, correndo atrás deles com o embevecimento pueril que só a infância é capaz de manter vivo. Na praia, um pai paciente ajuda o filho amedrontado a molhar os pés nas pequenas ondas que vão e vêm. O menino grita a cada investida do oceano, mas o pai não desiste.
Não desistiu o pai mas desisti eu de os observar, pelo que não sei qual o desfecho da sua breve lição sobre o mar. Os meus olhos estavam focados no farol, e o bom tempo apenas acicatava ainda mais o meu desejo de subir ao seu topo. Entre a base e o posto de observação entrepunham-se noventa e nove degraus íngremes. O corredor era estreito, pelo que qualquer entrecruzamento fortuito requeria um certo grau de autodomínio. Do topo, avistava-se não só o mar como também toda a cidade atrás dele. Ao longe, via-se igualmente moinhos eólicos girando maquinalmente segundo os caprichos do vento invernal.

Ao descer o farol, fui confrontado com um monumento em pedra que confirmou a minha inexplicável sensação de afinidade entre as costas de Chōshi e de Portugal. Segundo estava inscrito no monumento, em 1993, curiosamente o ano do meu nascimento, havia sido celebrado um acordo de amizade entre o Cabo de Inubo e o Cabo da Roca. O nome de Portugal aparecia grafado como Portogal, gralha perfeitamente desculpável sabendo que, em japonês, o nome do país é pronunciado como po-ru-TO-ga-ru.

Após uma refeição ligeira, dirigi-me a um outro local que despertara a minha curiosidade: a rocha do Cão 犬岩. Foi desta rocha supostamente em forma de cão que nasceram as imensas lendas que deram nome ao Cabo do Cão Ladrador. Não se pode dizer que a rocha propriamente dita, com as suas alegadas orelhas e focinho caninos, inspire ou comova alguém, muito menos quem leia as teorias científicas sobre o processo de erosão que conduziu à sua formação. No caso desta rocha, não é nem a rocha nem a verdade sobre ela que interessam, mas o que ela nos diz sobre a imaginação humana. À imagem da famosa história do leal Hachikō na estação de Shibuya, reza a lenda que o cão do comandante militar Minamoto Yoshitsune (源 義経, 1159-1189) esperara na praia pelo seu dono durante sete dias e sete noites. Enquanto aguardava o regresso do seu amado dono, o cão nunca cessou de ladrar até ao dia em que se transformou numa rocha. Durante séculos, habitantes da aldeia portuária junto à rocha afiançavam ouvir o ladrar de um cão durante noites de tempestade. Esta é a génese do mito que, mais tarde, baptizaria toda a zona costeira como “Ladrar do Cão” (Inubo 犬吠), bem como o seu cabo homónimo.
Ironicamente, no trajecto entre e de volta para o farol não vi um único cão, mas dezenas de gatos: em bancos, alpendres, telhados, em cemitérios familiares, comendo cabeças de peixe em ralos de esgoto e sabe-se lá mais onde. Quem sabe, um dia, não se insurja uma rebelião de gatos que, como última machadada ao regime caninista, declare a destruição total de qualquer monumento desses anos negros de subserviência gatesca, culminando com a demolição da rocha do cão pelo próprio regime felino. Se esta não fosse a história da civilização humana, até teria tido graça.

Ciente de que todos os animais são iguais, mas uns mais iguais que outros, digo adeus ao porto de Tokawa e entro no liliputiano comboio que me levará de volta para a estação central. A meio do trajecto, o comboio fez uma paragem numa estação com dois nomes: Kasagami-Kurohae 笠上黒生 e Kaminoke-Kurohae 髪毛黒生. Segundo vim mais tarde a apurar, o nome oficial havia sido mudado para Kaminoke-Kurohae a 1 de Dezembro, contudo a familiaridade dos habitantes locais com o nome original levou a empresa a determinar que fossem incluídos ambos os nomes nos anúncios gravados e nos sinais informativos. Quando as portas da carruagem se abriram, uma criança abraçada pela avó quebrou o silêncio, gritando para o avô, que seguia em pé em frente à porta, “não vais sair aqui?”. Enlevados com a pureza da criança, todos os passageiros riram. Todos excepto um velho ao meu lado, que comentou com a mulher “É deficiente, ou quê?”, na mais grotesca demonstração de amargura de que tenho memória. O velho empregou a palavra kichigai, um termo que hoje em dia é considerado extremamente ofensivo e uma forma de bullying contra as pessoas com deficiência ou problemas de foro mental. A palavra, que significa algo como “maluco”, é actualmente um dos termos proibidos pelas entidades reguladoras da comunicação social japonesa. Não sei o que leva alguém a reagir à alegria contagiante de uma criança com tamanha maldade, especialmente não estando a bordo de um avião (diz-me quem és num voo longo, dir-te-ei quem és). Só sei que não acredito em karma mas ele existe, pois, quando o velho se preparava para sair do comboio, tropeçou na mochila de um passageiro musculado, estatelando-se aparatosamente contra a parede. Desta vez, tratando-se não da criança mas de um hércules contemporâneo, não se lhe ocorreu usar de novo da palavra kichigai. Decisão curiosa, de facto.
Este incidente relembrou-me que o novo ano não irá misteriosamente apagar todas as fontes de angústia e frustração que, de vez em quando, nos perturbam a rotina. Porém, mesmo por mero acaso, reafirmou também a minha convicção de que colhemos o que semeamos, e é por isso mesmo que, neste ano, devemos continuar a tentar semear o melhor que temos para dar, seja em forma de texto, de gestos ou de afectos. Não será um ano fácil. Às vezes, iremos sentir-nos abandonados, como o cão de Minamoto Yoshitsune ladrando a sós na costa gélida. O importante é nunca perder o foco, nunca esquecer que, para lá do oceano impiedoso, há terra firme à nossa espera. E, conduzindo-nos a porto seguro, há um farol que nos guia. Gostava de ser portador da verdade absoluta e revelar-vos, com cem porcento de certeza, qual o verdadeiro significado do farol nesta metáfora. A verdade é que não faço a menor ideia. Para já, direi que é a virtude, a capacidade de determinar por nós mesmos o que é certo e errado, fazer juízos éticos sobre a natureza das coisas e como devemos agir. Para alguns, esse farol terá uma componente religiosa, para outros será secular, alicerçado no pensamento filosófico, no zeitgeist ou até mesmo no instinto. Seja qual for a vossa bússola, nunca percam o norte nos meses que se seguem. Um bom 2020 para todos vós! 明けましておめでとうございます!Akemashite omedetō gozaimasu!
André Pinto Teixeira
01.01.2020, Chōshi 銚子 (Japão)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1219223-1201554898.jpeg.jpg)